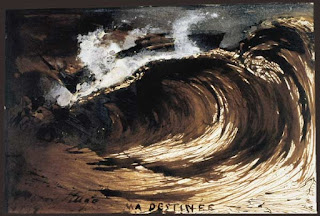À procura de um texto encontro um documento que julgava perdido, onde havia compilado uma boa tarde das entradas de um diário irregularíssimo que comecei a escrever em 2005, desde que cheguei a Moçambique. Este documento, que se chama Estaca Zero, reune apontamentos até Janeiro de 2008. Não tenho a certeza se as datas conferem, teria de confirmar nos cadernos. Aqui deixo as últimas páginas desse documento, com 110 páginas.
1 de Julho de 2007
Será hoje publicado no Expresso o texto polémico sobre recepção de poesia que enviei há umas três semanas:
Um poeta faz 25 anos de edição e realiza uma
antologia pessoal. Profusa, como de resto a sua obra, expõe linhas de força,
núcleos temáticos, plasmados com vitalidade, fôlego e um ecletismo de processos
descoroçoante. São 25 anos de trabalho, de uma dedicação exclusiva. Não importa
aqui situar o poeta em qualquer ranking – trata-se aliás de um poeta que
se exprime compulsivamente, por necessidade interior. O que interessa é a
probidade, o fazer operário, a incansável entrega a um labor. Chega um crítico
(que ainda por cima é poeta) e sob a pressão do espaço e do tempo faz um fresco
ligeirinho.
O crítico parece dizer bem, mas
manifesta várias desatenções e algum desconforto, ilustrado em pequenas farpas
cirúrgicas, aqui e ali, que fazem pensar se o crítico não escreveu apesar de si próprio, arreliado pela
persistência do autor, um moscardo flamejante que zumbe e desassossega.
Falo de Amadeu Baptista, que saiu
com uma antologia pessoal de 260 páginas, Antecedentes Criminais /
Quasi, 2007, e da crítica que lhe fez Eduardo Pitta no Público, no dia
8.
Vamos aos factos. Escreve Pitta: «escrevendo
sobre Negrume, de 2006 – livro que esta antologia recupera na íntegra -,
um ensaísta exigente como Luís Adriano Carlos
sublinhou a “dilaceração tumultuoso da consciência face à contradição
quotidiana de quem habita níveis existenciais não comunicantes”». Não sei o
que pensará a exigência de Luís Adriano Carlos face ao deslocamento que o seu
excerto sofreu do prefácio de Poesia Digital para uma suposta recensão a
Negrume que nunca escreveu, mas os 25 anos do poeta pediam um bocadinho
mais de rigor e não este artifício de escriba pressionado pelo tempo, pelo
espaço, pelo seu imago.
Adiante, escreve Pitta: «Nenhuma
ambiguidade perturba o discurso do poeta, que aconselho com proveito aos
arautos do “real absoluto”. Por falar em real convém lembrar que uma das formas
de que Amadeu Baptista se serve para o pôr em pauta tem que ver com enunciados
de natureza sexual explícita, embora a parcimónia da actual recolha pareça desmentir
a asserção. Do meu ponto de vista, livros como a Noite Ismaelita (2000)
e A Construção de Nínive (2001) estão insuficientemente representados,
por oposição a Arte do Regresso (1999) e Paixão (2003) mas uma
antologia pessoal é o lugar por excelência da idiossincrasia, e seria fútil
insistir na perspectiva do crítico». E seria fútil exactamente por
reveladora das idiossincrasias do crítico, pois que acrescentar se A
Construção de Nínive é publicado em Antecedentes Criminais na
íntegra? Sentiu o Pitta falta de algum coito? Por outro lado, o texto dá a
impressão de que A Noite Ismaelita é outro texto recheado de kamasutra.
Ora, nos antípodas, é um livro quase místico de inspiração sufi e onde ao
contrário do anterior não há alusão ao golpe e contra-golpe do sexo.
Ademais, será legítimo fixar para
um poeta tão plural uma imagem redutora e distorcida? O poeta adora sexo (e
quem não?) e declara-o com à vontade e persuasão retórica. Usando a mesma
veemência com que navega na infância, numa escrita contemplativa, na
religiosidade, na pintura, na música: experiência estética de que dá amplo
testemunho. A sexualidade explícita - já que estamos a falar em medidas - é uma
parte ínfima da sua obra, dominada isso sim pelo erotismo, por uma sensualidade
a que não se furta nem o seu (irregular) pendor místico. As coisas (o sagrado e
o profano) estão nele tão interligadas que inclusive o poema que dá título a A
Construção de Nínive (o tal da sexualidade “desenfreada”) é colocado (nesta
antologia sem separadores, cortinas ou títulos de livros, como assinala Pitta)
a anteceder os poemas de Paixão, um livro de inspiração bíblica, de modo
a que possamos sentir a sua ressonância salomónica. Amadeu Baptista dá as
chaves. O que não é habitual é um poeta manifestar-se num espectro tão amplo e
isso, admite Pitta, chateia à «poesia de sabor único» (Pessoa) que hoje agrega
tantos militantes.
Voltando a Pitta, lê-se: «Se tivermos de
escolher uma palavra para caracterizar a obra de Amadeu Baptista, essa palavra
seria catarse. Isso explicará o desacerto da recepção crítica, por oposição ao
sucesso de obras “lisas”, isto é, não problemáticas. Antecedentes Criminais prova que o
ónus é equivalente à aspereza do discurso». Apesar do acerto de contrapor
ao sucesso momentâneo da lisura de alguns a injustiça do relativo silêncio
(comparativamente) a que a obra de Amadeu Baptista tem estado sujeita, pois dá
muito mais trabalho a perspectivar, este parágrafo enferma de equívocos e
lugares-comuns.
Primeiro, a catarse. Não se deve menosprezar a inteligência
dos autores. Amadeu Baptista compreendeu cedo que a catarse é impossível ou é
de um inacabamento que enquistou na
aporia. A sua é, sim, uma poesia pejada de pathos, mas não esqueçamos o
papel de uma poderosa estratégia de fingimento que neste poeta propende a uma
nunca referida pulsão dramatúrgica. Com outra propriedade escreveu
Baptista-Bastos (um não poeta) sobre a antologia, quando a apresentou na Fnac:
«O poeta fala de si para se aproximar das emoções do outro (...) Não é porém
uma poética do testemunho, mas sim, a definição, muito singular, da nossa
posição existencial (...) no seu bojo, contém-se uma subtil convocação da
experiência – e da experiência tornada consciência.» O que se amplifica na
seguinte advertência de Deleuze «Escrever
não é contar as lembranças, as viagens, os amores, os lutos, sonhos e
fantasmas. Ninguém escreve com as suas neuroses. (...) A literatura só se
afirma se descobre sob as aparentes pessoas a potência de um impessoal.» Daí que Amadeu consiga ser
blasfemo e perseguir o sublime, consiga ser metafórico e descritivo, ser subtil
e ser directo, capaz de moldar-se ao soneto e de expandir-se no poema longo: a
sua experiência de escrita trasladou o vivido para a orbe de um impessoal, e
agora joga com os géneros. Quanto à sua ‘neurose’ é a mesma que demanda Bernardo Soares quando
aspira a “ver o polícia como Deus o vê” – lugar onde a catarse é de há muito
uma categoria abandonada. Pode ser sido até pretexto mas já não é de todo o seu
telos.
Segundo,
não há em Amadeu Baptista aspereza de discurso, há é temas que exigem uma
linguagem menos pura, menos poética – ainda que pareça paradoxal, às vezes o
não-poético é o mais poético.
Por fim, uma afirmação com ar de
ditame, sobre a propensão de Amadeu para o poema longo: «Rosto Soberano
(...) dá a medida da especial apetência do autor pelo discurso torrencial, com
os riscos correlatos da metaforização, da acumulação de materiais e do eco
retórico que uma e outra produzem. Prefiro o registo vigiado dos sonetos, mais
conformes a uma prosódia segura». Não interessava antes saber se, corridos
os riscos correlatos, o autor leva a tarefa a bom porto, em vez da preferência
do crítico? Os textos longos funcionam e resultam, são desenvoltos, arejados,
mantêm a tensão da escrita, ou não? O que é uma prosódia segura? Mede-se tal
pelo menor quociente de riscos? Se Amadeu demonstra ser capaz de pequenas
escaramuças (a prosódia segura), que pode impedi-lo de empreender grandes
batalhas? O sentido de medida do crítico? Segura no mesmo sentido em que uma
mãe galinha diz ao seu filho que não deve sair à rua? Será um crime, adquirida
a técnica, preferir os riscos ao capitoné da prosódia? A poesia deve ser
analisada a partir do que é e expõe ou a partir de um suposto dever ser e de
moldes pré-formatados? Tenho de aceitar Ungaretti contra Pere Gimferrer?
Larking contra Ted Hughes? O fito é reduzir, em vez da abertura? Ora, um
poeta conciso e breve como Eduardo Pitta devia saber que só tem fôlego quem
pode.
Pitta saberá que eu sei que
escrever para os jornais leva a precipitações (e nos jornais pensa-se que se
explica a física quântica nos mesmos caracteres com que se anuncia um
estrangulamento por ciúmes na Rua do Norte), a confiar-se demasiado na opinião
(primeiro passo para a idiotia, pecado que foi também o meu tantas vezes), mas
como poeta compreenderá que uma obra que levou 25 anos a erguer não devia ser
observada com olhos de sono.»
Valerá a pena, a 10 000 km de distância, abrir o
debate no seio da teia instalada para a recepção e o condicionamento da poesia
portuguesa actual?
Provavelmente é um gesto suicidário, sobretudo
quando se acabou de lançar um livro que espera por leitores, mas, neste exílio,
percebo que não posso consentir que me coarctem os direitos. E estes passam
pelas virtualidades de uma prática poética e de uma leitura das suas
respectivas densidades algo arredias ao que se tornou dominante em Portugal.
Instalou-se uma preguiça mental e uma estreiteza de horizontes que
paulatinamente afeiçoam o leitor a formatos pré-definidos de pensar e de
acomodar a expressão. O fascismo, diria até. A grande questão está contida
nesta formulação de Salah Stétié: «O testemunho na circunstância, digo: na
poesia, não é feito senão de palavras e é esta mesma a sua principal
fragilidade, aos olhos daqueles, os mais numerosos, para quem a palavra é uma
forma melhorada do nada. Para os outros, entre os quais alguns poetas que nós
colocamos no topo da nossa estima, a palavra é uma forma, penosamente
diminuída, da totalidade pressentida». (L’interdit, 93, José Corti)
Para quem considera a palavra «uma forma melhorada
do nada» a poesia aparenta-se à decoração ou, nos casos mais ‘sérios’, a uma ourivesaria
com um ofício expresso em medidas mensuráveis. Daí que tão facilmente se caia
na tentação de definir parâmetros. Tudo em nome de um retorno ao “realismo”.Depois não me admito como poeta “a quem se consente”. Só a minha solidão e a sua zona de laminação me guiam: não porque entenda a arte e a poesia como espaço sacrificial mas porque no limite há uma longitude de destino que me desobstrui – dom que é gratuito mas exige um preço a que não quero nem posso furtar-me. Sob risco de tudo se tornar decoro e venalidade.
Claro que ninguém responde ao meu texto endereçado ao Pitta. Nem o próprio.
“J´habite l’exterieur d’un anneau”, Paul Claudel: tão próximo de âne.
Extraído da Autobiografia, de Zao Wou-Ki, grande pintor chino-francês, presença determinante da Escola de Paris, dos anos 50 e 60, e amigo de Michaux: «(sobre a sua infância)
...os generais decapitavam e colocavam as cabeças à entrada da cidade – cabeças que pintavam metade em verde,a outra em vermelho. Como todas as crianças qua saíam da escola, empurradas pela multidão ao primeiro tumulto, eu assisti a uma execução. Não se podia recuar, era-se obrigado a olhar. Adormeci durante muito tempo, aterrorizado pela visão dessa cabeça rolando sobre o solo, cujo sangue espirrava de todos os lados.
Esta época foi terível. Havia suicídios entre os mais pobres, que não conseguiam sobreviver e vendiam os seus filhos no caminho da escola. Não eram incomuns os enforcados...»
Depois disto nunca se fará uma pintura realista. Seria absolutamente desumano.
Quiasma: a acrescentar ao meu catálogo de palavras que usarei invariavelmente a contrapêlo. Tão próximo quiasma de quiabo.
17 de Julho
A falta de electricidade é que
cumpliciou afinal a vontade dos medíocres à inveja de alguns, no caso da
condenção de Sócrates. A deliberação ocorreu em duas sessões. Na primeira,
segundo Xenofante – citado por Luciano Canfora no notável Um Ofício
Perigoso/ A Vida Quotidiana dos Flósofos Gregos – “parecera prevalecer o
bom senso; mas o grupo que batalhava pela condenação soube evitar uma decisão
imediata, dizendo que naquela noite não se podia votar porque não havia luz
suficiente para que se distinguissem as mãos erguidas dos votantes. Entretanto
trabalharam da melhor maneira que puderam para influenciar a sessão seguinte
com alguns lances de teatro”. Concluindo, Sócrates que na distorção da dialéctica – Sócrates, em todos os diálogos, é quem determina as regras da discussão, vantagem que não se deve menorizar – invariavelmente comandava a luminotecnia foi “comido” pelas sombras chinesas.
18 de Julho.
Pessoa morreu aos 47 anos, roído como
as borrachas que a minha filha entrega desleixadamente ao consolo do cachorro,
e eu sinto que renasço aos 48, como se pela primeira vez na vida reunisse as
cartas necessárias a um poke de ases. Quanto tempo me deixará a vida progredir
neste estado de exaltação nupcial? Algumas doenças perseguem-me e os alicates do
inexorável nunca se fecham. Mas talvez seja possível diferir, o intervalo
necessário à decantação deste meu novo estado numa visão. Não muito,
apenas o tempo necessário – se me é permitido pedir.
20 de Julho de 2007
Bilene, um espaço paradisíaco para
ler, escrever, acabar um livro. Belo jardim à Simenon, que se espraia pelos
fundos da casa em que me coube passar uma semana de repouso, depois da violência
de ter tido de escrever uma série de ficção para televisão de sete episódios em
15 dias (enfim, só metade, o que convulsionei do argumento já existente, mas a
mudança foi absolutamente geológica o
que exigiu uma reescrita total).Leio de Paz: «O presente é perpétuo/ Os montes são de osso e são de neve/ estão aqui desde o princípio/ O vento acaba de nascer/ sem idade/ como a luz e como o pó (...)». Mas será assim? Nascerá o vento a cada instante, sem antecedência nem sombra platónica? Nietzsche gostaria.
Variante de Paz:
na tua cama/ éramos três:/ eu tu e o vento.
25 de Agosto de 2007
Simpático convite para botar faladura
num congresso internacional sobre a Zambrano. Será que isso permitirá um salto
a Lisboa? Pensando meia-hora sobre o título da comunicação e o tema da mesma, a
minha intuição chega a estas prerrogativas: título, Zambrano: as imaginações
do oráculo; tema: «Na coincidência entre ser e linguagem entre acção e
devir, receptáculo e reminiscência, nesse para-além da linguagem que suplanta
as representações, e que tem nos «sonhos monoeidéticos» o seu operador,
Zambrano desenha uma trajectória que a aproxima da imaginação criadora de
Ibn´Arabi – à luz da exegse de Henry Corbin – e da “não-dualidade” do Advanta. Esboçar estes paralelos com algum
rigor e deixar entrevistas as suas consequências é o movimento que nos motiva.»Pode ser este o artigo que me faltava para fechar o livro de ensaios?
29 de Agosto
Conferência de Fotocópias: lê-se num
letreiro num notário de Maputo. Afinal, reza a última moda entre os paleontólogos, os dinossauros não buliam com os refreados nervos dos mamíferos (os placentários, segundo o artigo). Ninguém empatava ninguém naqueles tempos coruscantes, de pavio tão curto. Há hoje indícios, asseguram, de que o que aprenderamos sobre a incompatibilidade entre dinos e mamíferos é falso. Os chineses apresentam inclusive fósseis de um mamífero do Cretáceo que se alimentava de dinossauros, o Repenomanus. Convenhamos que é nome que o desvelo de uma vovó dinossaúrica pode apontar como Papão aos netos. E sei finalmente de onde extraiu Shakespeare o espírito peçonhento de Iago, o qual, segundo as novas correntes paleontológicas podia perfeitamente cuidar da higiene dentária dos T.Rex, seus irmãos na floração do sangue.
No mesmo jornal, leio:
«Dois minisubmarinos russos fizeram
domingo último uma jornada inédita, ao mergulhar até uma profundidade de 1,3
quilómetros sob o gelo do Oceano Galacial Ártico, como preparativo para uma
expedição rumo ao leito do mar, nunca antes visitado pelo Homem.
‘Esta foi a primeira vez que um
submersível foi usado por baixo da camada de gelo do Ártico e (o aparelho)
provou ser capaz de fazer isso’, disse Anatoly Segalevich, piloto de um dos
minisubmarinos que levam apenas um tripulamte cada um.»O silêncio que enfrentará um pequeno submarino sob as calotes de gelo é inimaginável, capaz de remover as coordenadas de uma mente, o seu precário equilíbrio. Nesses limites, os monstros da interioridade abissal galgam facilmente os picos da consciência mais moderada, da mesma forma que a ausência de gravidade leva a que os astronautas percam massa óssea.
Trabalhos danados a que os poetas hoje se furtam, pobres antenas de uma civilização encaramelizada que, dizia Michaux, inventou jogos e desportos onde não se arrisca nada.
Voltei a fazer merda e a não telefonar às minhas filhas no Natal. Elas ficam sempre tão magoadas com isto. E eu não consigo deixar de ser miseravelmente egoísta e a não querer superar (por elas) o pânico de me encontrar convulso ao telefone quando lhes ouvisse a voz e soubesse que há pouco a dizer porque a distância, iniludível, vai roendo os códigos da intimidade.
Que cobardia, somos sempre indignos para alguém.
27 de Dezembro
Diziam os chineses, escreve Kenneth White, que para “agarrar” a verdadeira poesia é preciso encontrar-se face a face com um homem vivendo a três mil quilómetros de nós.
Eu meti-me a dez mil. E se reencontrei a poesia, temo, por vezes perder a memória, atolar-me no desprendimento que convoquei.
Na esplanada da Colmeia, a tasca onde sempre abanco depois de umas horas de aulas, ouço uma discussão de jovens sobre filosofia – coisa raríssima nestes lugares – e um deles avança com um argumento devastador para firmar a (palavras dele) ‘superioridade dos filósofos’: «nunca vi num jornal o anúncio de um filósofo a auto-publicitar-se».
O que gostaria de ter à mão o Banquete, de Platão, para lhe ler esta passagem: «Aristodemo escutou-me que encontrara Sócrates quando este saíra do banho, calçando umas sandálias, o que não era seu costume, e perguntou-lhe onde ia, assim tão bem arranjado».
O que gostaria de ter à mão o Steiner para lhe ler a sua sugestão de que tudo o que importa na vida não se traduz em valores cambiáveis.
Ainda bem que não tinha o arsenal comigo senão teria tido a tentação de me meter na conversa e de dar gasolina à combustão daquele pobre rapaz. Devemos ser muito prudentes de modo a não induzir ninguém a abraçar a nossa escolha: a de um perdulário que desbarata a sua inteligência na pobreza.